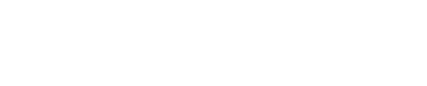Interações ecológicas com plantas
Os organismos interatuam uns com os outros no interior dos ecossistemas. Propriedades ecossistémicas tão importantes como a diversidade específica, a ciclagem dos nutrientes ou a produção de biomassa emergem diretamente da interação entre indivíduos pertencentes (interações intraespecíficas), ou não (interações interespecíficas), à mesma espécie. Veremos ao longo deste livro que a história evolutiva e a biologia das plantas estão profundamente marcadas por três interações ecológicas fundamentais: competição, herbivoria e simbiose.
Diz-se que há competição (competition) quando um indivíduo condiciona a aquisição de recursos por parte de outro indivíduo coespecífico (da mesma espécie) ou heteroespecífico (de uma espécie distinta). A competição interespecífica por recursos pode desembocar na extinção local de uma espécie (exclusão de competidores inferiores). Por exemplo, o fecho da canópia de uma floresta elimina as plantas heliófilas características da vegetação de orla e clareira florestal. O mesmo acontece quando através da aplicação de fertilizantes numa pastagem de solos nutricionalmente pobres, as espécies oligotróficas (de solos pobres) são substituídas por espécies eutróficas, mais competitivas sob as novas condições ecológicas. Sobretudo em ecossistemas estáveis, os indivíduos coespecíficos e ou de espécies com nichos ecológicos similares, por regra, competem ferozmente entre si (Connell, 1983). A competição favorece a inovação, o uso de novos recursos, ou um uso mais eficiente de outros. A luta por recursos é uma força determinante na evolução por seleção natural, mas não é a única (e.g., predação, parasitismo, herbivoria, e condições ambientais). Entre outros exemplos, veremos no volume II que a competição pela luz nos primeiros ecossistemas de plantas vasculares determinou a evolução das primeiras árvores e das primeiras florestas no Devónico (419-359 M.a.).
Ocorre herbivoria (fitofagia; herbivory) quando um organismo ingere um organismo fotossintético ou parte dele. A herbivoria é classificada em função das partes consumidas. Entre os grandes mamíferos herbívoros consideram-se os: os mamíferos ramejadores (browsers; e.g., girafas, corços e cabras) eos mamíferos forrageadores ou pastadores (grazers; e.g., búfalos, vacas e ovelhas) alimentam-se, respetivamente, de renovos e de erva. As espécies granívoras comem sementes, e as frugívoras frutos. Os insetos fitófagos (herbívoros) atacam raízes, caules, folhas, flores e frutos, podendo o seu consumo ser realizado de múltiplas formas (e.g. mastigação, ingestão de seiva floémica ou envolver a produção de «Galhas»). As espécies polinívoras e nectarívoras não são incluídas neste grupo ecológico. Os insectos fitófagos são extraordinariamente diversos, atingem as 500.000 espécies, 25% dos animais multicelulares conhecidos (Bernays, 2009). Os fitófagos de flores foram importantes na história evolutiva da flor. Num sentido lato, a herbivoria inclui alguns tipos de parasitismo; e.g., consumo de seiva floémica por insetos com armadura bucal picadora-sugadora (e.g., afídeos), a formação de galhas («Galhas») ou a ingestão do mesofilo das folhas por lagartas mineiras.
Nas florestas tropicais, 10-25% da superfície foliar é anualmente consumida por insetos (Janzen, 1981). Este valor é ainda superior nas pastagens (grasslands) naturais e seminaturais. Em média, 18% da biomassa produzida pelas plantas à escala global é consumida por herbívoros.
As plantas seguem duas estratégias de defesa contra a herbivoria: tolerância e resistência. Entende-se por tolerância à herbivoria a capacidade que certas plantas têm de atenuar os efeitos negativos do consumo pelos herbívoros no sucesso reprodutivo (fitness), i.e., na produção de sementes (descendência). A resposta rápida à desfoliação com novos crescimentos é um exemplo de tolerância. A resistência compreende as soluções evolutivas que evitam os estragos causados pela herbivoria. Para reduzir os seus efeitos as plantas desenvolveram diversos sistemas de defesa como sejam a acumulação de compostos secundários repelentes ou tóxicos, pelos glandulares, espinhos, cutículas espessas, ou, como se refere em seguida, mutualismos de proteção. Os compostos químicos para deter a herbivoria podem ser constitutivos ou produzidos, ad novo ou com mais intensidade após perturbação. Por exemplo, os canabinoides – compostos psicotrópicos da Cannabis sativa (Cannabaceae) – repelem e reduzem o sucesso reprodutivo de insetos fitófagos. À semelhança de outros químicos de similar função, acumulam-se preferencialmente nas flores femininas para proteger as sementes e os respetivos embriões (Stack et al., 2023).
O termo simbiose (symbiosis) tem origem na palavra grega symbioun, que quer dizer «viver junto». Apropriadamente, em ecologia, designa as interações fisicamente próximas, por vezes de estreita dependência (absoluta ou não), entre indivíduos de duas espécies distintas (Lang & Benbow, 2013). Reconhecem-se três tipos maiores de relações simbióticas (Figura I.1.12): (i) comensalismo, (ii) parasitismo e (iii) mutualismo. O comensalismo implica vantagens para uma espécie, sem vantagens ou desvantagens para outra. Uma carraça vigilante na extremidade de uma folha a aguardar o contacto de um mamífero, um líquen incrustado no tronco de uma árvore, muitas espécies de bactérias que vivem das exsudações radiculares, e as bromélias e as orquídeas epífitas são exemplos de comensalismo. No parasitismo, uma espécie (o parasita) tem vantagens em detrimento de uma outra (o hospedeiro). Geralmente, os parasitas enfraquecem o seu hospedeiro, sem o matar, mas nem sempre. As plantas hemiparasitas complementam o parasitismo com fotossíntese – são verdes (e.g. Pedicularis, Rhinanthus e outras Orobanchaceae; Figura I.1.12-C-E).
FIGURA I.1.12. Simbiose. A) Mutualismo nutricional – cultura de centeio em Trás-os-Montes (Portugal). B) Comensalismo – bromélia epífita do género Tillandsia (Bromeliaceae) numa floresta tropical da Colômbia. C) Hemiparasitismo – Buchnera sp. (Orobanchaceae) na savana angolana. D) Hemiparasitismo – a Striga hermonthica (Orobanchaceae) parasita do milho (na figura), sorgo, milheto e arroz de sequeiro, quatro das mais importantes culturas agrícolas de África, com um impacto gravíssimo na agricultura familiar africana (perdas de produção que podem atingir os 100%) (Runo & Kuria 2018). E) Parasitismo – Orobanche rapum-genistae (Orobanchaceae) a parasitar giesta-branca (Cytisus multiflorus, Fabaceae) no Norte de Portugal; n.b.: ausência de clorofila. [A), B) e E) Fotografias do autor; C) Angola, cortesia de António Martins; D) Quénia, cortesia de Abdullahi Ibrahim.]
O mutualismo é uma interação ecológica com ganhos mútuos. No mutualismo obrigatório, a sobrevivência de uma ou de todas as espécies envolvidas depende da interação mutualista; no mutualismo facultativo há ganhos sem dependência. Seguindo a mesma lógica, fala-se em mutualistas obrigatórios e em mutualistas facultativos. O conceito de mutualismo é hoje bastante lato, não implicando dependência ou uma história evolutiva comum (coevolução). O mutualismo coevolutivo evolui mais rapidamente se envolver organismos evolutivamente distantes, com capacidades complementares que podem ser usadas em benefício mútuo. As relações mutualistas colapsam se um dos mutualistas faz batota, i.e., se beneficia da relação sem dar nada em troca (Leigh Jr., 2010). Veremos exemplos a respeito da polinização (v. «Polinização por engano»).
19-50% das interações ecológicas são de tipo mutualista (Stone & Roberts, 1991). As relações mutualistas são tão frequentes quanto diversas. Bronstein (2015) organiza do seguinte modo as interações mutualistas: (i) mutualismos nutricionais; (ii) mutualismos de transporte; e (iii) mutualismos de proteção.
As micorrizas e as infeções de bactérias diazotróficas, dois tipos fundamentais de mutualismo nutricional no mundo das plantas, têm uma expressão morfológica evidente a nível da raiz, razão pela qual são detalhadas no capítulo «Raiz». A relação dos humanos com os cereais convergiu em pouco menos de 10.000 anos num mutualismo nutricional obrigatório – o trigo, o milho e o arroz, e outras espécies, são incapazes de se reproduzir sem a intervenção do homem, e sem cereais seria impossível alimentar a população humana atual (mais de 7 mil milhões de indivíduos). A atual diversidade e abundância de mamíferos ungulados (e.g., bovídeos e cervídeos) e de ecossistemas-pastagem é produto de um longo processo coevolutivo com ganhos mútuos entre gramíneas e mamíferos herbívoros, grosso modo iniciado na segunda metade do Cenozoico (volume II). Foi proposto, faz meio século, que a terrestrialização das plantas tenha sido facilitada pela interação com fungos micorrízicos (Nicolson, 1967) (volume II). Uma fagocitose malsucedida de uma proteobactéria por uma arqueobactéria há mais de 1600 M.a. converteu-se no mais decisivo caso de mutualismo na história de vida terrestre: a célula eucariota (volume II) (Lane, 2015).
Na polinização entomófila (v. «Vetores e sistemas de polinização») e na dispersão zoocórica (v. «Sistemas e síndromes de dispersão»), são transportados por vetores animais, respetivamente, pólen e diásporos (mutualismo de transporte). As plantas têm ganhos de fitness através do aumento da polinização cruzada (v. «Polinização cruzada») e da dispersão a longa distância (v. «Vantagens e desvantagens da dispersão»), em troca, os vetores recebem uma recompensa alimentar na forma de néctar, pólen, sementes, excrescências de sementes, ou polpa de frutos carnudos. A polinização das figueiras (Ficus, Moraceae) por vespas da família Agaonidae adiante escalpelizada é um caso extremo de mutualismo de transporte obrigatório. No volume II, mostra-se que a facilidade com que as plantas com flor desenvolvem mutualismos de transporte com insetos explica, pelo menos em parte, a extraordinária diversificação dos insetos e das angiospérmicas no Cretácico Inferior.
Como se referiu, para escapar aos efeitos detrimentais da herbivoria e do parasitismo, as plantas adquiriram mecanismos diversos de defesa química (e.g., acumulação vacuolar de compostos secundários) e física (e.g., cutícula espessa, espinhos e indumento). Adicionalmente, algumas espécies desenvolveram mutualismos de proteção; os mais citados ocorrem com microrganismos endófitos ou com formigas (mirmecofilia).
Os endófitos (endophytes) são fungos ou bactérias que habitam os tecidos vegetais, intra- ou intercelularmente, sem originarem estruturas macroscópicas nem causar sintomas de doença no hospedeiro. Sabe-se que alguns fungos endófitos protegem as plantas hospedeiras contra vírus, fungos e bactérias patogénicos (Gond et al., 2010).
Nas interações mutualistas de proteção, as formigas expulsam insetos fitófagos (e.g., afídeos e larvas de borboletas) e ladrões de néctar (Nepi et al., 2009; Rudgers & Gardener, 2004). Para cativar as formigas as plantas oferecem em troca locais adequados para a instalação de formigueiros (e.g., espinhos com perfurações) ou recompensas alimentares (e.g., néctar produzido em nectários extraflorais e corpos nutritivos). Por exemplo, as formigas sul-americanas do género Pseudomyrmex constroem formigueiros em espinhos ocos e consomem corpos nutritivos situados no ápice dos folíolos de algumas Vachellia (Fabaceae); em contrapartida, defendem a árvore do ataque de insetos e mamíferos herbívoros, eliminam folhas e caules de outras espécies de plantas que contactem com a árvore colonizada, e suprimem as plantas que germinem na sua vizinhança (Rickson, 1975) (Figura 1.13). Caules ocos para alojar formigueiros são frequentes em espécies pioneiras das florestas tropicais; e.g., Macaranga (Euphorbiaceae) em África. Descobriu-se que certas formigas suprimem doenças infecciosas fúngicas ou bacterianas, supõe-se que pela ação de substâncias antibióticas por elas segregadas (Offenberg & Damgaard, 2019). Como as formigas não são polinizadores eficientes e, muitas vezes, roubam néctar, especula-se que os nectários extraflorais envolvidos no mutualismo de proteção com formigas evoluíram inicialmente para desviar a sua atenção do néctar floral (Wagner & Kay, 2002).
FIGURA I.1.13. Mutualismo de proteção com formigas (mirmecofilia). Espinhos ocos de Vachellia (Acacia) cornigera (Fabaceae, Mimosoideae). As rainhas recém-fecundadas de formigas Pseudomyrmex voam ao encontro da V. cornigera. Selecionam um espinho e escavam com as mandíbulas uma abertura ou usam uma abertura pré-existente, põem ovos e fundam um novo formigueiro. [Cortesia de M. J. Raupp.]
No ponto «Hidátodos, nectários extraflorais e corpos nutritivos» oferecem-se mais exemplos de mutualismo de proteção.